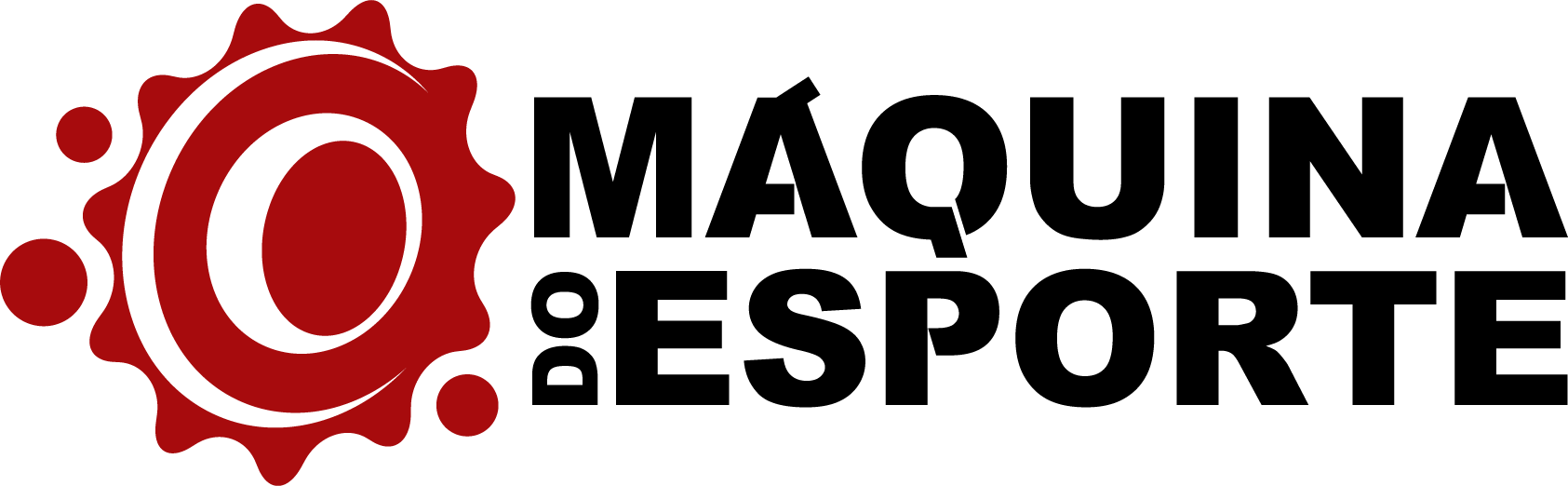Lembro bem dos meus ídolos de infância. Ídolos de uma época diferente, sem mídias sociais nem superexposição, uma admiração que nasceu e foi alimentada pelas páginas dos jornais, pelas matérias na TV e pelas histórias que eram contadas.
Desde pequeno, sou apaixonado por esportes, herança do meu pai. Época bem diferente de hoje, em que a informação corre o mundo em poucos segundos, em que aparências contam muito, conteúdos genuínos nem tanto, e os ídolos, bem, é esse o ponto da coluna. Costumo falar de temas associados a coleções, paixão pelo esporte, memorabília, iniciativas que valorizam nossos heróis atletas. Mas esse texto tem a ver com a essência do ídolo.
Esse tema martelou minha cabeça depois da participação do ex-tenista Fernando Meligeni no Maquinistas, o podcast da Máquina do Esporte, há pouco mais de um mês, e que acabou tendo um desdobramento na coluna da Dani Schneider, na semana passada. Então, resolvi também dar o meu pitaco sobre isso.
Só contextualizando. Meligeni falou sobre o “problema da falta de ídolos no Brasil”, com João Fonseca sendo o ponto de partida da conversa, passando pelo “controverso” Neymar, Rebeca Andrade, que “não teria assumido o posto de ídolo nacional”, e Vini Jr., que “tem que querer e tem que fazer”, nominando Pelé, Ayrton Senna, Ronaldo e Gustavo Kuerten como unanimidades. “Quem é hoje? A gente não tem”.
O link da entrevista completa segue abaixo, com o tema que cito começando por volta de 1h12min48s.
Desculpe, Meligeni. Mas não concordo. O problema do Brasil não é a falta de ídolos. É a histórica falta de respeito aos nossos ídolos. Isso sempre foi algo recorrente, lamentável e, infelizmente, comum no nosso país. Poderia listar aqui uma série de nomes importantes que foram esquecidos, que foram largados, uma lista que teria muitos nomes que todos nós sabemos. Quantas e quantas vezes ouvimos atletas dizendo que são mais reconhecidos fora do que aqui no Brasil?
Felizmente, isso vem mudando aos poucos nos últimos anos, com iniciativas do Comitê Olímpico do Brasil (COB), de algumas confederações e marcas, e até mesmo de parte da imprensa, enxergando o que antes não era visto: a necessidade de resgatar, valorizar e eternizar feitos do nosso esporte.
Também não concordo quando diz que o atleta “tem que assumir” o posto de ídolo. E não estou individualizando em Rebeca, Vini Jr., Neymar, João Fonseca ou qualquer outro. Até porque isso não está no controle do atleta, não é uma ação voluntária. Ser ídolo é uma consequência, uma combinação de vários fatores como resultados (conquistas), inspiração, influência, atitude, postura, exemplos e por aí vai.
Para mim, é consequência disso tudo (e mais um pouco) e de oportunidades, de estar na hora certa, no lugar certo (o que muitos podem chamar de sorte).
Não é uma receita de bolo. E também pode combinar outros fatores.
Concordaria mais se falasse que ídolo tem que se comportar como ídolo, com responsabilidade e consciência de que suas atitudes e mensagens impactam e influenciam milhões de pessoas. Que o ídolo tem que entender o papel de ídolo, de ser referência, ser modelo, inspiração e espelho. Anderson Varejão, a principal referência do basquete brasileiro nos últimos 20 anos, dentro e fora das quadras (para mim e para muitos), costuma dizer que “a palavra convence, mas o exemplo arrasta”.
E não é uma crítica ao Meligeni, apenas um ponto de vista diferente. Gosto do Meligeni, aliás. Tive o privilégio de assistir in loco sua vitória em 2003, no Pan da República Dominicana, quando conquistou uma medalha de ouro épica, em um jogo de quase três horas em que venceu o chileno Marcelo Ríos. Épica é realmente a melhor palavra para definir aquela vitória. Para mim, o momento mais marcante daqueles Jogos, que tiveram o basquete sendo campeão, Vanderlei Cordeiro de Lima, Flávio Canto, Fernando “Xuxa” Scherer também conquistando o ouro, entre outros destaques. Mas Fernando Meligeni roubou a cena.
Diria que ele alcançou o status de ídolo, ainda que momentâneo, mas com todo o mérito, após uma vitória espetacular em seu último jogo como profissional. Acho que é justo citar isso como uma forma de reconhecimento, por conta da dedicação de uma carreira inteira, que teve o melhor final possível: uma demonstração de raça e coração, em um grande palco, vencendo um ex-número 1 do mundo e subindo ao lugar mais alto do pódio.
Ídolo é uma palavra forte, que define “uma pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração”. Em alguns momentos, chegamos, inclusive, a ver ídolos sendo alçados à condição de “lendas”, “mitos”, etc.
E aí eu volto ao início desta coluna, quando citei os meus ídolos de infância. Eram três: Oscar Schmidt, Aurélio Miguel e Paulo Victor (goleiro do Fluminense na década de 1980). Ídolos de um moleque que amava futebol, queria ser judoca e se encantou com o Mão Santa liderando aquela geração do basquete. Admirava, e muito, os três. Admirava pelo que lia nos jornais, pelo que via na TV, por tudo o que meu pai me falava. Pelos exemplos e pelas mensagens que eu absorvia, pelas notícias que chegavam pela imprensa.
Depois de “velho”, já como jornalista, conheci Paulo Victor, trabalhei com Aurélio Miguel e Oscar Schmidt como assessor de imprensa, e a admiração de moleque só aumentou, se é que isso era possível. Mas ninguém pediu para ser meu ídolo. Ninguém se colocou nesse lugar. Assim como acho que ninguém consegue se colocar ou assumir isso impondo, querendo, se achando pronto, levantando a mão, sentando na cadeira e se apresentando como tal.
Eu poderia simplesmente endossar aqui a condição de ídolo da Rebeca Andrade. Algo indiscutível, unânime, ainda que eu esteja em uma situação de absoluta parcialidade. Mas é aquilo: os fatos, o momento, as evidências mostram isso.
Não existe um ranking de ídolos. Acho que o momento ajuda a definir isso, mas não se pode fechar os olhos para uma trajetória construída. Um exemplo recente? Alison “Mamute”, campeão olímpico no vôlei de praia no Rio de Janeiro 2016. Aposentou-se há poucos dias na Praia de Copacabana, no pódio, sendo exaltado, homenageado e reverenciado. E tem que ser assim. Era o mínimo que ele merecia.
Vamos voltar 20 anos no tempo? E Vanderlei Cordeiro de Lima em Atenas 2004? Vamos voltar 30 anos e lembrar da “Geração de Ouro” do vôlei? Ah, 40 anos? Joaquim Cruz? E Paula? E Adhemar Ferreira da Silva? Eder Jofre? Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Zico, Cesar Cielo, Maurren Maggi, Robert Scheidt. A lista é grande. Quantos fora de série conquistaram esse “selo” de ídolos brasileiros?
No Brasil, para mim, a definição de ídolo acaba se misturando um pouco com a condição de herói. E a história do Caio Bonfim, que o público só conheceu melhor há pouco mais de um ano, depois da prata em Paris 2024? E a trajetória da Rafaela Silva? Alison dos Santos, o “Piu”? Hugo Calderano? Gabi? Bruninho?
Claro que a força da modalidade também influencia no alcance e estimula o interesse do público em geral. Mas ídolo é ídolo. Existem aqueles que alternam momentos de mais ou menos mídia, de mais ou menos relevância, mas que são ídolos, que fazem muito por suas modalidades, que são referências.
Então, reiterando e discordando com todo respeito e admiração que tenho por Fernando Meligeni, não nos faltam ídolos. Temos de sobra. O que falta é reconhecimento, falta tratá-los (todos eles, cada um à sua maneira, ao seu tamanho, à sua história) como merecem.
Ídolos são eternos e precisam ser lembrados para sempre.
Samy Vaisman é jornalista, sócio-diretor da MPC Rio Comunicação (@mpcriocom) e cofundador da Memorabília do Esporte (@memorabiliadoesporte)
Conheça nossos colunistas