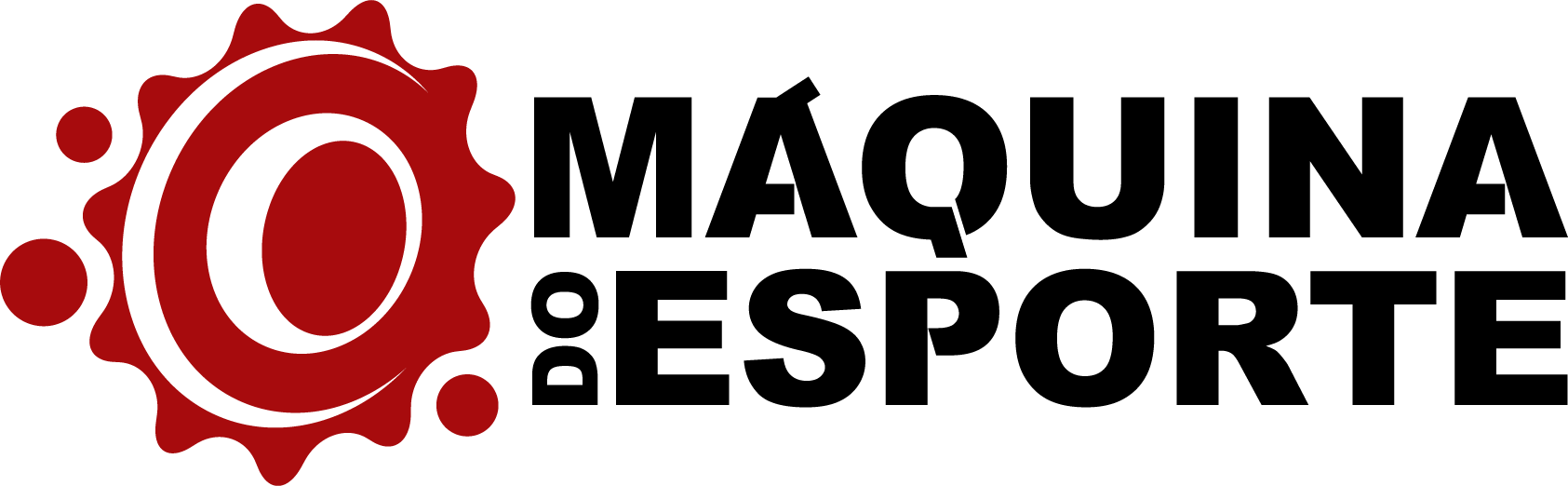Sou uma entusiasta assumida do esporte feminino. Acredito genuinamente que estamos vivendo uma transformação – lenta, às vezes desigual, mas irreversível. Durante décadas, o esporte feminino sobreviveu à base de resistência. À margem dos investimentos, das transmissões e das decisões estratégicas, mulheres insistiram em jogar, competir e liderar, muitas vezes sem estrutura, sem visibilidade e sem perspectiva de carreira. Hoje, esse cenário começou a mudar. A diferença é que, agora, a persistência está se transformando em potência.
De acordo com a McKinsey & Company, as receitas dos esportes femininos cresceram 4,5 vezes mais rápido que as dos masculinos entre 2022 e 2024. A consultoria estima que o setor pode movimentar mais de US$ 2,5 bilhões adicionais até o fim da década, se for explorado de forma estratégica. Não é pouca coisa. É um sinal claro de que o interesse existe e de que há um enorme valor ainda não capturado.
O tema não é novo, mas ganhou força nos últimos anos. O futebol feminino lotando estádios na Europa, o crescimento na audiência da WNBA nos Estados Unidos, a ascensão de ídolas globais como Serena Williams, Marta, A’ja Wilson e Iga Swiatek, e o aumento do investimento de marcas mostram que a atenção é real. Mesmo assim, a disparidade entre o que se investe e o que se retorna no esporte feminino ainda é gritante e, mais do que uma questão de justiça, isso já se tornou uma questão de oportunidade de negócio.
A ONU Mulheres reforça essa desigualdade: as mulheres representam quase 40% das pessoas que praticam esportes de alto rendimento, mas recebem menos de 15% da cobertura da mídia. Esse desequilíbrio impacta diretamente a base econômica do setor, pois menos visibilidade gera menos patrocínio, que, por sua vez, gera menos estrutura, performance e, novamente, visibilidade. O ciclo se repete.
Há países, no entanto, que entenderam que essa transformação exige política pública, estratégia e continuidade.
Na Noruega, a igualdade no esporte é política de Estado desde 1980. Federações precisam ter pelo menos 40% de representação de cada gênero para receber financiamento público. A seleção feminina de futebol ganha os mesmos salários que a masculina, e essa cultura de inclusão transborda para outras modalidades, do handebol ao esqui. O resultado é visível: mais meninas praticando esportes, mais mulheres em cargos técnicos e mais medalhas conquistadas.
Na Coreia do Sul, o número de jogadoras registradas de futebol e futsal dobrou em quatro anos, impulsionado por programas televisivos, ligas universitárias e incentivos federativos. A profissionalização ainda está em curso, mas o recado é claro: quando há visibilidade e investimento, o crescimento vem rápido.
Em contrapartida, há histórias que mostram o custo da falta de estrutura: em 2019, a Canadian Women’s Hockey League, uma das ligas femininas mais fortes do mundo, fechou as portas por falta de receitas, acordos de mídia e patrocínios sustentáveis.
No Brasil, o movimento é ambivalente. Há conquistas importantes – o futebol feminino ganhou calendário nacional, a seleção tem mais visibilidade, e atletas como Marta, Bia Zaneratto, Rebeca Andrade e Rayssa Leal se tornaram ícones culturais. Mas os desafios ainda começam muito antes do profissional: meninas têm menos acesso ao esporte na base, o investimento em formação é limitado, e o número de mulheres em cargos de liderança esportiva segue baixo.
É importante lembrar que o futebol feminino foi proibido por lei no Brasil até 1979. E esse atraso institucional deixou marcas profundas. Quando uma geração inteira é impedida de jogar, o impacto é cultural, pois falta referência, estrutura e continuidade. Ainda hoje, muitas jogadoras enfrentam jornadas duplas, contratos precários e falta de calendário competitivo.
Mesmo assim, há sinais claros de virada. Clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo criaram departamentos femininos sólidos, a Globo ampliou as transmissões, e marcas como Nike e Guaraná Antarctica colocaram atletas mulheres no centro de suas campanhas. O resultado é visível: mais público, mais interesse, mais consumo.
Nos esportes eletrônicos, um território historicamente masculino, a mudança também começou a aparecer. Nos Estados Unidos, as mulheres já representam quase 30% da audiência dos e-Sports, e esse número cresce a cada ano, o que mostra que o interesse feminino nunca foi o problema. O desafio sempre foi abrir espaço para ele florescer.
O esporte feminino não deve ser tratado como um projeto social, e sim como um negócio estratégico, um pilar de crescimento econômico, cultural e de engajamento.
Incluir não é apenas o certo a se fazer. É o mais inteligente.
O artigo acima reflete a opinião do colunista e não necessariamente a da Máquina do Esporte
Roberta Coelho é CEO da equipe de e-Sports MIBR e criadora da WIBR, ecossistema de ações que busca trazer mais mulheres para o universo dos games. Além disso, é cocriadora e ex-CEO da Game XP e ex-head de desenvolvimento de negócios e ex-diretora comercial do Rock in Rio
Conheça nossos colunistas